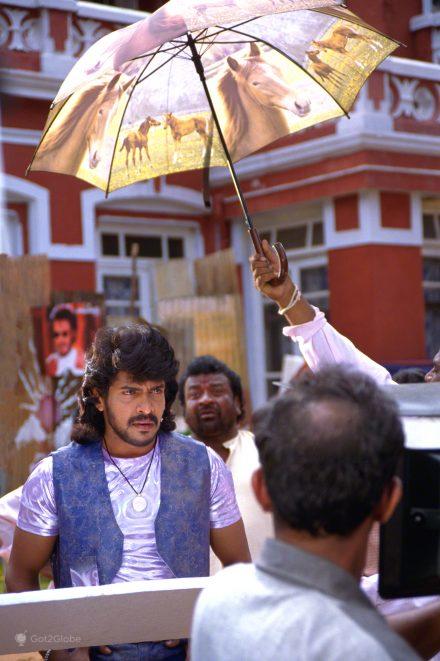Cabo Verde tem os seus tempos. O da chegada do ferry “Liberdadi” da Cidade da Praia, ilha de Santiago, acumulou três horas de atraso.
“Escusam de ir já para o porto. Ficam aqui no terraço a apreciar a vista e a beber qualquer coisa. Quando virem o barco aparecer detrás do sul do Fogo, então, descem, sem pressas.”
O conselho dos donos do hotel Xaguate poupa-nos a uma espera desesperante. Não poupou ao balouçar intenso do ferry em boa parte da navegação entre São Filipe e a aldeia piscatória de Furnas.
Fruto de sucessivos percalços, desembarcamos na Brava eram quase onze e meia da noite. Sentíamo-nos cansados a condizer.
Quando descobrimos que, sem a termos pedido, tínhamos uma Hiace da pousada à espera, a inesperada boleia sossega-nos. Já instalados, aproveitamos o embalo do “Liberdadi” no fundo das mentes. Adormecemos num ápice.
Com o amanhecer, retomamos a saga Hiace. Por mais que procurássemos, não havia um único carro para alugar em toda a Brava.
O rapaz da recepção diz-nos que o seu tio Joaquim nos podia safar. Vinte minutos depois, o Sr. Joaquim aparece com uma velha van. Hiace, claro está.
Até então, tínhamos conduzido um pouco de tudo em Cabo Verde, a determinada altura, com preferência para as poderosas pick ups de que, desde a estreia quase forçada, em Santo Antão, tínhamos ficado adeptos.
Reconhecíamos a popularidade das Hiaces, em Cabo Verde. Tinham-nos poupado a diversas caminhadas demasiado longas. Não contávamos era com nos tornarmos condutores de uma, para mais, idosa, cheia de teimosias.
E de manhas.
Ao confirmarmos a falta de alternativas, conformamo-nos. Instalamo-nos, meio perdidos no habitáculo excessivo, receosos de que os travões da carripana cedessem numa das sucessivas ladeiras paredes-meias com precipícios da ilha.

Da Base de Nova Sintra, à Descoberta da Brava
Deixamos Nova Sintra, a capital, para mais tarde.
Numa primeira fase, em plena ascensão das vertentes que sucedem a Cova Rodela, vemos o casario da capital estender-se pelo declive suave do leste, submisso à imponência da montanha-vulcão do Fogo.
São brancas as casas da Brava, as de Nova Sintra e as restantes, adornadas por bananeiras, por papaieiras, agaves e vegetação afim daqueles confins da Macaronésia em que as passarinhas esvoaçam e saltitam.

São lares feitos de paredes alvas, de telhas de barro cozido, como o de tantas aldeolas e lugarejos da antiga metrópole.
A meio do século XVI, de lá chegaram sobretudo minhotos. Acompanharam-nos madeirenses, também eles aliciados pelo Atlântico ainda mais desconhecido.
Não foram os primeiros moradores da ilha, longe disso.
No final do século XV, os descobridores e comerciantes lusos já usavam a Brava como um entreposto de escravos, complementar do principal da Ribeira Grande, actual Cidade Velha de Santiago.
A Descoberta Portuguesa da Ilha Brava
Ganhou suficientes simpatizantes para se popularizar a ideia de que Dja Braba foi achada no dia 24 de Junho de 1462, por Diogo Afonso, escudeiro de D. Fernando, filho adoptado e herdeiro do Infante D. Henrique e um dos marinheiros ao serviço do Navegador.
Quase no fim de Setembro do mesmo ano, D. Afonso V selou uma carta régia que versava “asi e pela guisa que lhe temos dada a outras sete ilhas que Diego Affomsso, seu escudeiro achou através do Cabo Verde”.
Entre elas, contavam-se as cinco ilhas mais a oeste do arquipélago cabo-verdiano: São Nicolau, São Vicente, Santo Antão, São João (Brava) e os ilhéus Branco e Raso.
Passaram mais de oitenta anos sem que a ilha de São João fosse colonizada de forma organizada. Em 1489, no entanto, já a habitavam alguns aventureiros.
O Povoamento Intensificado com a Migração Forçada da Ilha do Fogo
Um deles foi Lopo Afonso, escudeiro de D. João II. O “Principe Perfeito” doou-lhe e aos seus herdeiros toda e qualquer mina de ouro, prata, cobre ou enxofre lá existente, como recompensa pelos muitos serviços por ele prestados.
Metais preciosos foram coisa que Lopo Afonso e descendentes nunca encontraram na ilha. E abandonaram-na.
Húmida e viçosa, de forma contrastante das ilhas áridas de São Vicente e do Sal, em vez, a ilha de São João provou-se, um reduto imaculado de criação de gado.
Duas décadas mais tarde, D. João III, concedeu a sua exploração para cultivo de algodão, desde que garantissem a protecção do gado que proliferava nas montanhas e vales humedecidos, apascentado por alguns dos escravos que, no entretanto, a ilha passou a traficar.
A determinada altura, a Brava contava com mais de duas mil cabeças de vacas, cabras, ovelhas e cavalos. Por muito que pastassem, pouco ou nada afectavam o seu visual quase luxuriante, o visual que nos remete de volta para o baptismo da capital.
Em pleno século XVII, povoaram-na em catadupa habitantes da vizinha Fogo, em fuga das erupções cada vez mais regulares e ameaçadoras do vulcão massivo da ilha.

Aos Altos e Baixos, em Busca da Esquiva Fajã de Baixo
Na diminuta Brava, o grande calçadão ervado e murado bifurca. Insinuavam-se, a norte, recortes afiados da ilha, marcados contra o anil do Atlântico que o tecto de bruma seca invernal tornava nevoento.
Algures entre o contorno setentrional da Brava e o horizonte, os ilhéus Grande, de Cima, os Secos e o do Rombo salpicavam o oceano.

Casario alvo da Brava disseminado pela paisagem verdejante da illha.
A bifurcação gera em nós indecisão. O desafogo e o apelo azulado do mar acabam por nos seduzir. Seguimos pela direita, na direcção de Sorno a que a estrada nunca chega.
Ao vencermos um de tantos meandros, entre agaves aguçados, cruzamo-nos com um duo inesperado.

Um morador caminhava lado a lado com um burro carregado de bidões de água.
A nossa passagem, na Hiace de que por certo conhecia o proprietário, suscita uma surpresa que prefere dissimular. “Vão até à Fajã?” pergunta-nos. “É bonito, aquilo lá.”
Numa ilha com meros 67km2 seria difícil falharmos um dos seus recantos imperdíveis. Haveríamos de lá descer.
No entretanto, desperta-nos a atenção uma casa sobranceira, branca, de molduras e portadas azuis, também ela espalmada contra o fundo condizente de céu e de mar.

Percebemos movimento sobre o terraço que a completava. Decidimos investigar. Quando lá chegamos, um grupo de jovens bravenses conversa ao sol.
De quando em quando, aconchegam dois cabritos recém-nascidos. Tito, Daniel, Vitinho e Jim trazem erva que as cabras adultas devoram em três tempos.

Entendemos o quão importantes eram as cabras e os cabritos para a sua sobrevivência, como o era o burrico felpudo que nos olhava de soslaio, preso a um velho tanque de água.

Uns minutos depois, chegamos à encosta sobranceira à Ponta Cajau Grande. Após um esse apertado e escavado na vertente rochosa, temos a visão inaugural da Fajã.
Descida à Enseada Abrigada e Quente de Fajã de Baixo
Primeiro, a da enseada escarpada no seu topo.

Mais abaixo, do fundo socalcado, pejado de palmeiras e de coqueiros destacados acima do casario. Completamos os ziguezagues para a marginal que o separa do mar.
Protegida dos alísios pela configuração e profundidade da baía, a Fajã requentava. Mesmo em pleno Inverno, a espécie de estufa que lá constatamos justificava a proliferação e a saúde da vegetação tropical.
Também servia para explicar o facto de a marginal estar quase deserta.
Deviam ser quase duas da tarde. Esfomeados, sondamos os restaurantes e bares mais próximos, o Flowers of the Bay, o Bar dy Nos. E outros.
Ansiávamos por um peixe grelhado, uma cachupa, por uma refeição bravense ou caboverdiana que fosse.
Por fim, aparece alguém do interior escuro de um estabelecimento. “A esta hora? Só temos bebidas. Se tivessem ligado para cá antes de saírem de Nova Sintra, tínhamos preparado algo.
Nós só fazemos comida quando temos clientes garantidos. E vocês estão a chegar em época ainda muito baixa.” Voltamos a conformar-nos. Agradecemos e pedimos bebidas para levar.

Caminhamos marginal fora, até ao velho aeroporto da Esperadinha, inaugurado em 1992, fechado em 2004 quando se percebeu que os ventos que fustigavam aquele norte da Brava eram demasiado traiçoeiros.
Regressamos ao âmago da Fajã. Por essa hora, já anima a baía alguma actividade piscatória.
Acompanhamos um grupo de homens que lutavam contra as vagas, aflitos para depositarem sobre os seixos secos, não rolantes de basalto, um pequeno barco artesanal.

E vemos outros a estenderem uma rede nas imediações de um veleiro por ali fundeado.
De Regresso às Terras Altas da Ilha da Brava
Com o sol prestes a sumir-se para trás das vertentes a oeste e com tanto da ilha por desbravar, regressamos ao seu cimo.
De novo por terras de Cova Joana, seguimos pela continuação da via que antes tínhamos rejeitado, rumo a Nª Srª do Monte, pelas alturas do Pico das Fontaínhas (976m) que nenhum outro ponto da ilha supera.
Passamos junto a Escovinha e a Campo Baixo. Alguns quilómetros em esforço da Hiace adicionais, damos entrada em Cachaço.
Por onde a estrada se fica.

Casas da Brava envoltas de bananeiras, papaieiras e restante vegetação tropical.
É famoso o queixo de cabra do Cachaço.
Bem mais notório que a casa em que os nativos afiançam que o poeta bravense Eugénio Tavares se refugiava para compor as mornas que Cabo Verde continua a cantarolar.
Eugénio de Paula Tavares terá escrito que “da Brava para qualquer ponto, os ventos são sempre de proa, o mar é sempre picado, as correntes sempre contrárias, o céu sempre toldado e prenhe de ameaças. Mas o regresso é a fresta, o mar é de rosas e os ventos de feição.”
Aos moradores de Cachaço, a névoa que ameaçava velar o povoado, já pouco ou nada inquietava.
Recebem-nos com uma estranheza que se converte em tagarelice desenfreada, com um grupo deles sentado em frente a uma casa, para variar, esverdeada e com um duo de camponeses bem-dispostos, que dá de beber a um burro sedento.

Por fim, a névoa pendente apodera-se da povoação e dos montes.
Com o receio de a termos que completar às cegas, antecipamos a descida para Nova Sintra, a capital assim baptizada devido as alegadas similitudes com a vila saloia.
Fim de Tarde Animado em Nova Sintra
Em Nova Sintra, renovava-se e celebrava-se a sua habitual jovialidade.
Em pleno dia dos namorados, sob os bigodes de bronze de Eugénio de Paula Tavares, adolescentes descarados roubavam flores do jardim público. E, a umas dezenas de metros do lugar do crime, ofereciam-nas às caras-metades.
O Carnaval estava à porta. Nem o romantismo florido do dia, poupava os adolescentes aos ensaios diários para os desfiles de daí a uns dias, animados por bombos, tambores, estranhas pandeiretas rectangulares e por máscaras esculpidas de cascas de cocos.

Já à margem desta comoção, devoramos uma cachupa, pobre mas providencial, no restaurante junto ao coreto do centro. Extasiados, rendidos à escuridão que se instalara, refugiamo-nos no bar da pousada.
Lá nos entregamos a um jogo internacional do Benfica que concentrava um público entusiasta. João Gonçalves, o “Jiji” da recepção mostra-se intrigado com a nossa integração.
Quando damos por ela, debatemos com o anfitrião as aventuras e desventuras da colonização e descolonização de Cabo Verde: “Mas, tendo em conta a ligação tão forte que ainda mantemos, achas que tinha feito sentido uma solução como a dos Açores e da Madeira?”, questionamo-lo, desafiados pelo contexto.
Jiji não está com meias medidas. “Não, o que de mau se passou em Cabo Verde e na Guiné nunca foi comparável e foi demasiado para podermos admitir algo assim.”
O Glorioso triunfou por 1-0 sobre o Borussia de Dortmund. Nessa noite, todos bebemos ponchas. Todos celebrámos a complexa Portugalidade.